 A sociologia é o estudo sistemático das sociedades humanas. Tende a concentrar a sua atenção nas sociedades industriais tecnicamente mais avançadas (deixando as mais tradicionais ao estudo da antropologia). A sociologia teve a sua origem no século XIX, partindo da ideia iluminista de que a razão pode ser empregue no entendimento da sociedade e aplicada na construção de uma sociedade melhor. A sociologia contemporânea é muito variada: compreende desde os pequenos estudos de carácter empírico até à teoria mais abstracta, Os seus métodos variam, podendo empregar desde levantamentos estatísticos de larga escala até estudos de pequenos casos localizados, baseados numa observação pessoal e comprometida. A morte não esteve, durante muito tempo, no centro das atenções dos sociólogos, mas esta situação começou a mudar no último terço do século XX.
A sociologia é o estudo sistemático das sociedades humanas. Tende a concentrar a sua atenção nas sociedades industriais tecnicamente mais avançadas (deixando as mais tradicionais ao estudo da antropologia). A sociologia teve a sua origem no século XIX, partindo da ideia iluminista de que a razão pode ser empregue no entendimento da sociedade e aplicada na construção de uma sociedade melhor. A sociologia contemporânea é muito variada: compreende desde os pequenos estudos de carácter empírico até à teoria mais abstracta, Os seus métodos variam, podendo empregar desde levantamentos estatísticos de larga escala até estudos de pequenos casos localizados, baseados numa observação pessoal e comprometida. A morte não esteve, durante muito tempo, no centro das atenções dos sociólogos, mas esta situação começou a mudar no último terço do século XX.Numa sociedade industrializada tecnicamente avançada e com uma população de cem milhões de indivíduos, cerca de um milhão dos seus membros morre todos os anos. Isto significa que esta sociedade tem de arranjar maneira de gerir e dar um destino a um milhão de corpos em processo de morte, que, mais tarde, será num milhão de corpos mortos, e ainda – dependendo da religiosidade dos seus membros – preocupar-se com a progressão de um milhão de almas, com a memória desse mesmo milhão e com modos de lidar com as emoções perturbadoras de dois ou três milhões de enlutados. É todo um conjunto muito pesado de tarefas a cumprir. Contudo, apesar dos traços comuns desta situação, são adoptadas estratégias muito diferentes nas várias sociedades, mesmo entre as mais desenvolvidas. Nos EUA, recorre-se muito menos á cremação do que no Reino Unido; por outro lado, só nos EUA e no Reino Unido é que não se recorre á reutilização cíclica das campas; por comparação com os Europeus, duas vezes mais americanos acreditam no inferno; o Reino Unido e os EUA desenvolveram os cuidados paliativos muito mais do que fizeram a Itália ou o Japão; habitualmente, as pequenas comunidades (por exemplo, rurais, étnicas, ou religiosas) choram os seus mortos comunitariamente, por contraposição aos aglomerados maiores e mais seculares, em que o pesar se faz de maneira muito mais privada e isolada. O entendimento e a explicação destas diferenças é sem dúvida do domínio da sociologia; a morte, embora experimentada individualmente, é socialmente estruturada.
As sociedades modernas lidam com os problemas constituindo-os como questões médicas. Isto é válido quer no modo de lidar com a perda de ente queridos, quer nos dispositivos a accionar para o tratamento do corpo, durante e após o processo de morte. Consequentemente, a maior parte da pesquisa sociológica sobre a morte tem sido feita pela sociologia da medicina. Três estudos realizados na América do Norte, durante a década de 1960, influenciaram grandemente as reestruturações no âmbito dos cuidados prestados aos que estão a morrer; o estudo de Glaser e Strauss (1965) sobre a qualidade da comunicação entre o pessoal médico e os doentes com cancro e as suas famílias; o estudo de Sudnow (1967) sobre a forma como o pessoal médico e da morgue trata os mortos; e o estudo de Goffmam (1968) acerca da «morte social» por via do internamento em clínica para doentes mentais. Cada uma destas investigações se baseou em trabalho de campo. Essencialmente, a mensagem foi: «É neste pé que as coisas estão», ao que o público chocado respondeu: «Não é assim que deviam ser». A desinstitucionalização e a melhoria na comunicação são, em parte, o resultado destes estudos sociológicos. Alguns estudos britânicos relativos a cuidados em hospitais de retaguarda, realizados durante a década de 1990, são igualmente perturbadores – e a simples descrição de uma realidade social pode ter consequências radicais.
Estudos epidemiológicos de larga escala, nos quais se documentam as diferentes vulnerabilidades de determinados grupos sociais e étnicos à morte e à doença, têm sido um ramo igualmente activo da pesquisa sociológica. Esta tem um potencial explosivo – bem patente na decisão do governo da senhora Tatcher, no inicio dos anos 80, de suprimir a publicação do «Relatório Black», que dava detalhes dos efeitos da pobreza e do desemprego sobre a saúde. Mas talvez o mais famoso estudo do género seja o de Émile Durkheim, O Suicídio, que data do final de século XIX, no qual o investigador documentou como o suicídio – aparentemente o mais extremo dos actos individuais – era mais comum a alguns grupos sociais do que a outros, Durkheim explicou o facto em termos da variedade na expressão de solidariedade dos vários grupos, existindo alguns que deixavam os seus membros mais isolados e menos integrados nas normas do grupo.
Apesar de a medicina ser o principal meio para as sociedades modernas lidarem com a morte, outras instituições são também empregues, em particular a religião e a comunicação social. Na década de 1990, alguns estudos sociológicos passaram a incidir sobre elas.
A sociologia enformada pela mortalidade humana
Para além dos modos específicos como a sociologia pode esclarecer a relação das sociedades com a morte, põe-se uma outra questão: deverá a sociologia ter em conta o facto de que todos morremos? Até à década de 1960, a sociologia foi sendo feita como se todos os indivíduos fossem do sexo masculino e, até à década de 1980, como se esses indivíduos não tivessem corpo, ainda hoje, parece fazer-se com base no princípio de que todos somos imortais.
Tem havido algumas vozes dissidentes. Durkheim defendeu que a participação nos rituais comunais – sobretudo o do funeral – é a forma como os indivíduos se tornam conscientes da sua pertença à sociedade. Estabelece-se aqui, portanto, um paradoxo; a morte, que arranca um indivíduo ao resto do corpo social, gera entre os sobreviventes um desejo de se voltarem a ligar entre si: a morte é um poderoso motor de solidariedade social. Tal como Peter Berger (1969) mais tarde escreveu, o ritual religioso proporcionou um «abrigo sagrado», sob o qual todos se podem acolher do terror da mortalidade; todas as sociedades são, em última instância, grupos de pessoas unidas para fazerem face à morte.
Os sociólogos têm tido, todavia, dificuldade em incorporar esse elemento fundamental no seu trabalho. Como é que a morte ajuda a esclarecer o plano sociológico da indústria, do turismo ou dos média? Serão apenas religiões, ou serão todas as instituições humanas, todas as formas de sociabilidade, defesas contra a morte? Esta será uma proposta dogmática, muito equivalente à visão de negação generalizada da morte nas sociedades desenvolvidas. Tais leituras são fruto do exagero e difíceis de fundamentar. Estarão, por exemplo, todos os que fazem exercício e dietas a tentar fugir à macabra ceifeira, ou muitos deles apenas procuram sentir-se bem e ter melhor aspecto e aparência? Se nem todos os comportamentos sociais podem ser vistos como defesas contra a morte, então na mortalidade humana não é universalmente importante para o estudo da sociedade, mas pode, ainda assim, dizer-nos muito sobre como as sociedades desenvolvidas diferem entre si e das sociedades que as precedem


























.jpg)












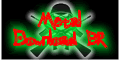



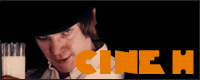

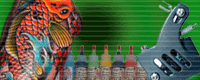





















Sem comentários:
Enviar um comentário