 O termo «gótico» é historicamente complexo e está em mudança constante, tendo sido aplicado a estilos particulares de arquitectura, de arte e de literatura. No âmbito da literatura do final do século XVIII e do inicio do século XIX, designa, no campo da ficção, um corpo de escrita que enfatiza o medo, o terror, o suspense e o sobrenatural, em cenários como castelos e ruínas de um passado «medieval» distante. Os elementos do Gótico (conforme foram desenvolvidos nos romances, aproximadamente entre as décadas de 1760 e de 1820) influenciaram também os autores de filmes de ficção e de terror do século XX. Alguns aspectos da cultura popular, como a música e a moda, também se apropriaram de símbolos e motivos góticos no final do século XX.
O termo «gótico» é historicamente complexo e está em mudança constante, tendo sido aplicado a estilos particulares de arquitectura, de arte e de literatura. No âmbito da literatura do final do século XVIII e do inicio do século XIX, designa, no campo da ficção, um corpo de escrita que enfatiza o medo, o terror, o suspense e o sobrenatural, em cenários como castelos e ruínas de um passado «medieval» distante. Os elementos do Gótico (conforme foram desenvolvidos nos romances, aproximadamente entre as décadas de 1760 e de 1820) influenciaram também os autores de filmes de ficção e de terror do século XX. Alguns aspectos da cultura popular, como a música e a moda, também se apropriaram de símbolos e motivos góticos no final do século XX.O desenvolvimento do romance gótico foi ligado á escrita de Horace Walpole, Ann Radcliffe e Mary Shelley (Frankenstein), o que levou a que Punter afirmasse: «A ficção gótica é a ficção do castelo assombrado, das heroinas acossadas por terrores indizíveis, do vilão com um olhar tenebroso, de fantasmas, vampiros, monstros e lobisomens. Em termos mais gerais, o Gótico é associado aos aspectos mais bárbaros, selvagens, e indomáveis da existência humana, e também á desordem e á quebra das normas e das convenções sociais. Centrando a sua atenção nas áreas mais misteriosas, mágicas e sombrias das igrejas e dos cemitérios, as obras literárias góticas conjuram demónios e recuperam os mortos em forma de cadáveres, esqueletos e espíritos. A este respeito, os temas e preocupações da escrita gótica do século XVIII iam ao encontro da crescente ênfase na racionalidade, na prática e na compreensão cientificas. O Gótico explorava os poderes e as forças que excediam os limites do racional e que prendiam os leitores com fantasias empolgantes. No século XIX, a ficção gótica deslocou a atenção das presenças sobrenaturais e das aparições em castelos ou florestas para os horrores da perturbação psicológica nos recantos sombrios das cidades. A criminalidade e a loucura, juntamente com a tecnologia e o aparato da ciência, foram arrastados para mundos imaginários de medo e desordem. Entre os textos góticos do final do século XIX destacam-se nos de Robert Louis Stevenson, O Médico e o Monstro: Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e o Drácula de Bram Stoker.
Botting (1996) sugere que o romance gótico forneceu um imaginário cultural para a exploração de temas de excesso e transgressão. Provocando sensações de medo e reacções emocionais excessivas, estas obras apresentavam os vícios, os desejos e as paixões que eram consideradas inaceitáveis para concepções dominantes da moralidade e das relações sociais ou domésticas apropriadas. As respostas críticas a estas obras apontavam o seu potencial subversivo como libertador de impulsos «bárbaros». Contudo, as dimensões transgressoras e perturbadoras do imaginário gótico também podiam servir para reforçar a atracção pelas normas sociais: «As relações entre o real e o fantástico, o sagrado e profano, o sobrenatural e o natural, o passado e o presente, o civilizado e o bárbaro, o racional e o fantasioso são cruciais para a dinâmica gótica do limite e da transgressão. Assim, esta forma literária pode ser interpretada como um registo de diversas inquietações presentes em várias fronteiras culturais, incluindo as que definem as relações entre os vivos e os mortos.
Durante o século XX, os temas e motivos góticos foram expandidos e transformados na literatura, nos filmes e na cultura popular. Muita da produção literária e cultural foi objecto da atenção de académicos, inclusive as obras de autores como Mervyn Peake, Angela Carter, Umberto Eco, Daphne du Maurier e Stephen King. No cinema os filmes fantásticos e de terror desenvolveram visualmente narrativas e imaginários góticos e levaram-nos para o domínio do choque visual, da violência explicita e da paródia, Grupos de contracultura, como os «góticos» da Inglaterra da década de 1980, mergulharam na música e em códigos de vestuário associados às convenções góticas. Dentro destas formações culturais complexas e variáveis designadas por «góticas», a morte, o morrer e o cadáver, os mortos-vivos, as presenças fantasmagóricas dos falecidos e os fragmentos de cadáveres têm sido considerados como fontes de terror, fascínio, inspiração e de uma identidade «alternativa».


























.jpg)












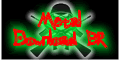



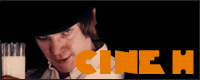

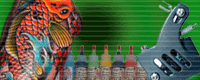





















Sem comentários:
Enviar um comentário